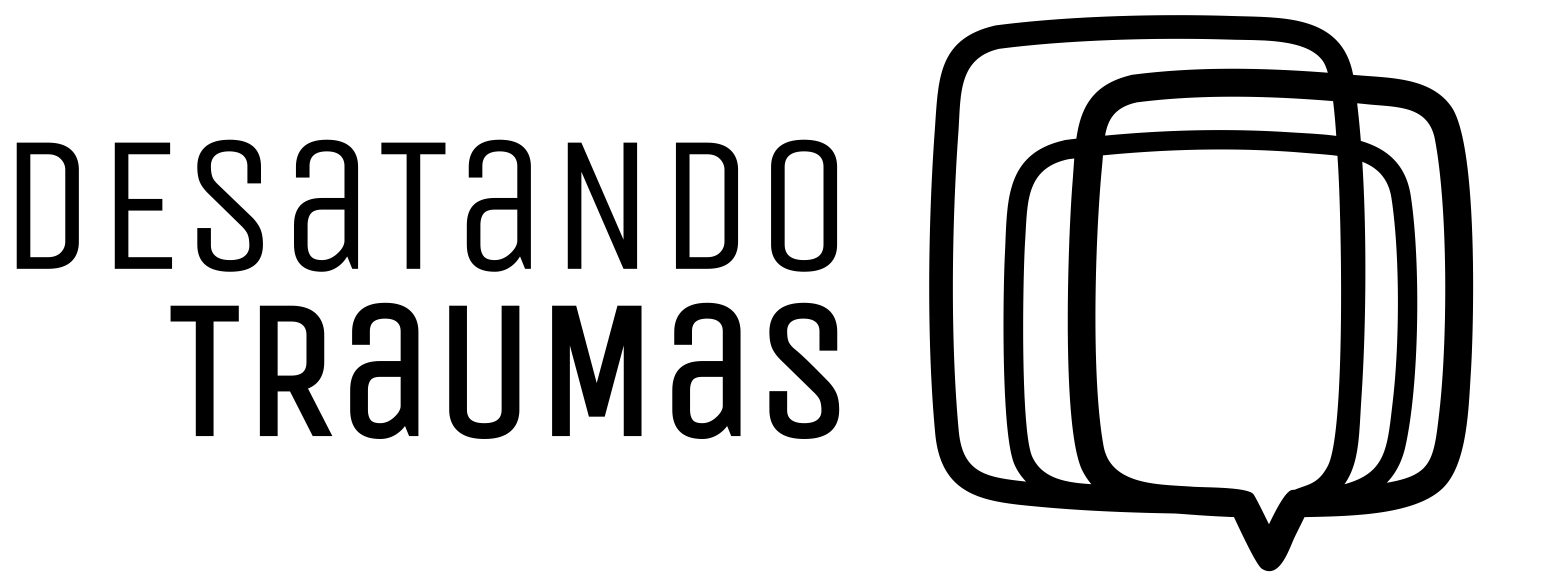Por Erika Zanoni Fagundes Cunha
Sim, animais podem ter transtorno depressivo, cujos sintomas podem ser divididos em cognitivos, afetivos, comportamentais e físicos. As mudanças cognitivas estão especialmente relacionadas às dificuldades de concentração e aprendizagem. As alterações comportamentais incluem especialmente o isolamento, apatia e desinteresse pelas atividades habituais. Os sinais afetivos são relacionados à tristeza, agressividade, irritabilidade e ansiedade. Já os físicos estão relacionados à fadiga e alteração de sono e/ou apetite.
Os modelos de depressão em animais são muito utilizados para o desenvolvimento de medicamentos e para extrapolar os conhecimentos da neurobiologia para humanos. Mas por que quase não se fala sobre o que sentem os animais?
A separação de filhotes de primatas de suas mães foi o primeiro estudo (cruel) sobre o desenvolvimento da depressão. A separação materna envolve alterações neuroquímicas, neuroendócrinas e comportamentais que podem ser observadas até a idade adulta, e essas alterações são tratáveis com antidepressivos. Outros testes, como o ‘desamparo aprendido’, o nado forçado e a suspensão pela cauda também podem simular quadros depressivos, porém os modelos animais não oferecem todas as respostas.
Muitos estudos no contexto do comportamento relataram que os animais podem sofrer com o luto. Com a morte de membros do grupo, os animais frequentemente apresentam comportamentos do tipo depressivo (apatia, anorexia e estereotipias). Sapolsky (2016) relata que entre os babuínos Chacma, por exemplo, a predação de uma fêmea adulta produz um aumento de um mês nos níveis de glicocorticóides entre seus parentes próximos, mas não entre os indivíduos não relacionados. Além disso, tais parentes buscam apoio social, iniciando a higienização com maior frequência e com maior número de parceiros de preparação.
O estudo moderno da tanatologia comparativa aborda questões que incluem empatia, compaixão e compreensão conceitual da morte entre as espécies. Vários aspectos de como os grandes primatas reagem à doença, ferimentos e morte de outros do grupo lembram muito o comportamento humano em situações comparáveis (DE WAAL, 2010). Yang, Anderson e Li (2016) descrevem comportamentos mostrados manifestados frente a morte de uma macaca em um grupo de macacos selvagens de Sichuan (Rhinopithecus roxellana) e argumentam que a empatia e a compaixão em torno da morte se estendem além dos humanos e seus parentes evolucionários mais próximos.
Campbell et al. (2016) descreveram em seu trabalho as respostas comportamentais de macacos Barbary, um primata social, não-humano, para as mortes de quatro membros do grupo. As respostas pareciam variar com base na natureza da morte (prolongada ou instantânea) e na classe de idade do falecido. As respostas incluíram vários comportamentos com potenciais explicações ou consequências adaptativas. Estes incluíram exploração, cuidado (guarda, transporte e catação), e proximidade a indivíduos feridos ou cadáveres, e comportamentos de angústia imediatos e mais duradouros de outros membros do grupo após a morte, todos os quais foram relatados em outras espécies de primatas não humanos.
Sapolsky (2016) afirma que animais também podem apresentar o luto patológico em resposta à perda de membros do grupo, como relata o trabalho de Jane Goodall no caso de Flint, um chimpanzé de oito anos estudado desde o nascimento. Flint era o filho de Flo, uma matriarca no grupo. Após a morte de Flo por velhice em 1972, Flint foi incapaz de funcionar de forma independente, retirou-se de todas as atividades sociais, permaneceu perto de seu corpo continuamente e morreu dentro de um mês.
O estresse é a causa mais comum para o desenvolvimento da depressão. Um evento estressante normalmente causa microdanos no cérebro. Este dano desencadeia uma resposta de reparo de lesão que consiste em uma fase neuroinflamatória para eliminar detritos celulares, e uma fase de regeneração tecidual espontânea envolvendo neurotrofinas e neurogênese.
Precisamos divulgar mais informações sobre o assunto para que animais sob cuidados humanos, tanto domésticos como selvagens, tenham maior nível de bem-estar, evitando o desenvolvimento de transtornos mentais.
REFERÊNCIAS:
CAMPBELL, L. A. D.; TKACZYNSKI, P. J.; MOUNA, M.; QARRO, M.; WATERMAN, J.; MAJOLO, B.. Behavioral responses to injury and death in wild Barbary macaques (Macaca sylvanus). Primates, [S. l.], v. 57, n. 3, p. 309–315, 2016. DOI: 10.1007/s10329-016-0540-4. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/s10329-016-0540-4.
DE WAAL, F. The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society. 1st. ed. New York: Broadway Books, 2010.
SAPOLSKY, R. M. Psychiatric distress in animals versus animal models of psychiatric distress. Nature Neuroscience, [S. l.], v. 19, n. 11, p. 1387–1389, 2016. DOI: 10.1038/nn.4397. Disponível em: https://doi.org/10.1038/nn.4397.
YANG, B.; ANDERSON, J. R.; LI, B. Tending a dying adult in a wild multi-level primate society. Current Biology, [S. l.], v. 26, n. 10, p. R403–R404, 2016. DOI: 10.1016/j.cub.2016.03.062. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982216303074.